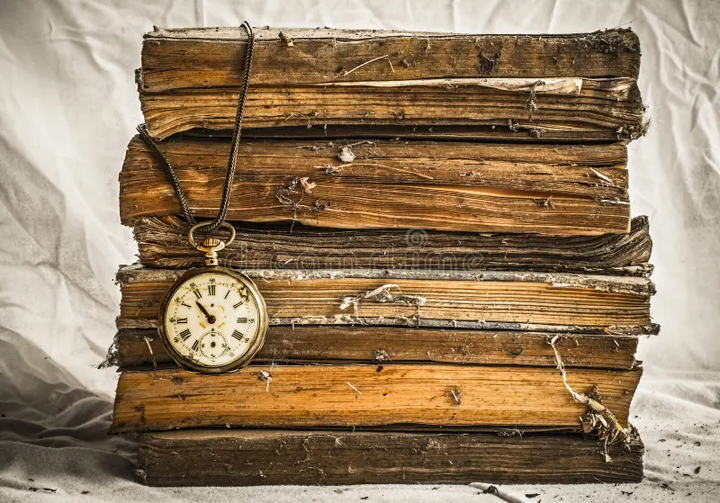Uma crítica marxista ao camarada Euclides Vasconcelos sobre a guerra da Ucrânia
O objetivo anunciado do camarada é expor as principais razões por trás das negociações. E, de fato, ninguém pode dizer que ele não o fez – a partir de uma teoria realista, nunca do marxismo.

Por Leonardo Vinhó | Tribuna de Debates
“Vivemos um período de reconstrução de nossas forças políticas – o que exige por sua vez uma atenção absolutamente central à nossa formulação teórica, programática, estratégica e tática. (...) [O trabalho de base] será absolutamente ineficaz se não for acompanhado de um rigoroso e disciplinado processo de definição dos marcos teóricos do marxismo-leninismo.”
-Gabriel Lazzari, “Quais são as principais questões que devemos resolver no XVII Congresso?”
No último dia 24 de fevereiro foi ao ar um novo quadro no canal do propagandista do PCBR Jones Manoel. Apresentado por outro integrante do partido, Euclides Vasconcelos, o primeiro vídeo do programa “Guerra e Política” empreendeu uma análise das primeiras tratativas entre Estados Unidos e Rússia visando um acordo de paz na Guerra da Ucrânia. Esta tribuna é uma resposta à análise apresentada.
O objetivo anunciado do camarada é expor as principais razões por trás das negociações. E, de fato, ninguém pode dizer que ele não o fez – a partir de uma teoria realista, nunca do marxismo.
Antes de adentrarmos o conteúdo, então, é necessária uma breve explicação do que se trata o realismo. Salvaguardadas as devidas diferenças interpretativas entre seus fundadores, como Edward H. Carr, Hans Morgenthau e Raymond Aron, a teoria realista das relações internacionais parte do princípio de que os Estados são os atores principais do sistema internacional, além do elemento central de sua análise. Também considera que esse sistema é essencialmente anárquico, ou seja, pressupõe a ausência de uma autoridade outra, acima dos próprios Estados, que detenha o monopólio da violência para impor uma determinada ordem, o que é verdade. Nesse cenário, portanto, a política internacional seria uma luta pelo poder, definido essencialmente pelo elemento militar e posse de recursos naturais, uma vez que os Estados viveriam em constante necessidade de afastar as ameaças à sua sobrevivência e impor seus objetivos definidos como “interesses nacionais”. Essa interpretação está, com maior ou menor grau de sofisticação, alicerçada no essencialismo da natureza humana, em particular entendida como uma natureza egoísta – não por acaso trata-se de uma teoria que reivindica como precursores Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes. É útil destacar que se trata de uma escola doutrinária que buscou ativamente combater a interpretação marxista, especialmente a teoria do imperialismo, a partir de simplificações e reducionismos grosseiros. Para eles, o marxismo-leninismo não seria muito mais do que uma ideologia de Estado que pouco afetaria o “verdadeiro” funcionamento da política externa dos países, socialistas ou capitalistas, a partir do cálculo de poder e do “interesse nacional”.
Durante dois terços do vídeo, se afirma sem qualquer contraponto o argumento de que a razão política para a Rússia invadir a Ucrânia foi impedir que a Ucrânia entrasse na Otan ou permitisse que seu território fosse utilizado como base para aproximações militares. Sim, é esta a versão oficial da chancelaria russa, o que, espera-se, não deveria se traduzir como a nossa análise. Mesmo porque essa desculpa caducou em abril de 2023, quando a Finlândia ingressou oficialmente na Otan e aumentou essa fronteira em mais de 1300km sem que a Rússia disparasse um único tiro. Por óbvio, o argumento realista da ameaça militar que justifica uma guerra preventiva aqui é vazio, e, tal qual o fato de que um Estado decida manter outras nações reféns de seus interesses ou de sua “política de segurança” por meio da violência, deveria ser encarado por marxistas com mais criticidade, mesmo que não se trate de um país integrante do bloco imperialista hegemônico.
Depois de afirmar o estranho “fato” a-histórico de que “no campo de batalha nunca é a Rússia que se esgota”, ignorando derrotas como a Guerra da Crimeia (1853-1856), a Guerra Russo-japonesa (1904-1905) e a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o camarada pinta com cores bastante favoráveis o que qualquer análise razoável consideraria um impasse. A “indiscutível superioridade russa” no campo de batalha, como coloca, e que seria suficiente para explicar a mudança de postura do governo americano sob os princípios da teoria realista, se trata do estagnado controle do equivalente aproximado de quatro estados a leste e sudeste da Ucrânia, que não se movem dos cerca de 18 a 20% do território ucraniano total há um ano e meio (ver a área em vermelho no mapa abaixo). Os grandes avanços ficam por conta dos heróicos cerca de 40 km que a gloriosa Rússia-que-nunca-se-esgota conseguiu avançar em um ano na direção da cidade de Pokrovsk, além de um avanço ucraniano 30 km dentro da fronteira russa, na região de Kursk, também bastante irrelevante para significar algo além de uma futura barganha de territórios num acordo. Seria possível passar horas contemplando ponderações das mais diversas, por exemplo se a Rússia conseguiu sustentar essa posição de fato sozinha e o que isso significa no cenário internacional de forma mais ampla, ou como o esgotamento e baixo moral ucranianos não equivale ao esgotamento das capacidades da Otan em dar prosseguimento ao conflito. Mas, no fim das contas, qualquer perspectiva mais simpática a essa irredutibilidade das conquistas russas diante do aporte de recursos europeus precisa igualmente considerar a incapacidade de avançar para além disso, e vice-versa. Um impasse, portanto, retratado como “indiscutível superioridade”.

Somente aos 27 minutos de vídeo (de um total de 30) há uma tentativa de retificação do que até então era um argumento bastante realista, em que, a partir do aceite da justificativa securitária russa como razão explicativa do conflito e do aceite da sua “indiscutível superioridade” no campo de batalha para explicar a decisão pelo acordo, aceita-se também que a determinação principal das relações internacionais seria a busca dos Estados por aumento de poder, guiados por eternas preocupações com a segurança e a defesa. Aparece uma caracterização da Rússia como “potência regional com interesses próprios” e, pela primeira vez, esses vagos “interesses” dos Estados deixam a obscuridade para serem nomeados: a “economia [russa] assumindo cada vez mais um caráter também imperialista para os países com os quais se relacionam”. Dito assim, como nota de rodapé, em vez de assumir a devida centralidade da conceituação de um dos dois lados do conflito e a explicação central de por que países como Ucrânia, Geórgia e Cazaquistão são mais suscetíveis à intervenção russa do que a Finlândia ou os países bálticos.
Para além da “indiscutível superioridade” russa, a única outra justificativa apresentada para a mudança na política externa estadunidense é igualmente insuficiente: se concentrar no adversário chinês. Mas não num enfrentamento militar, Euclides enfatiza, e sim comercial, o que explica ainda menos por que não aumentar o orçamento militar ou apenas a manutenção dos gastos já empregados, já que a guerra segue num impasse há mais de um ano. Por qual motivo se concentrar no adversário chinês também segue sem resposta, porque não se apresentou na análise em nenhum momento o elemento explicativo central para o marxismo: os interesses de classe.
Embora “Estados burgueses” tenha surgido uma ou duas vezes no vídeo como uma adjetivação corriqueira, é um conceito fundamental para compreender o caráter do Estado moderno e sua instrumentalização pelas classes (ou setores de classes) dominantes para consecução dos seus interesses a partir da sua vanguarda e representação política, os partidos burgueses. Assim, a mudança entre uma política externa belicista e uma política externa que busca encerrar os conflitos reflete, na política institucional, a disputa entre setores das classes burguesas estadunidenses e suas prioridades. Embora a realidade não opere a todo instante com maniqueísmo absoluto (afinal, parte do exercício da hegemonia é saber mediar outros interesses), em períodos como o que vivemos hoje é visível que os democratas tomaram proeminência na representação dos interesses da indústria bélica mesmo frente a um dos maiores movimentos anti-guerra desde os anos de 1970, enquanto essa reconfiguração dos republicanos sob Trump atende a setores da burguesia nacional que não estão diretamente atrelados à essa estrutura imperialista, que continuam dependendo essencialmente do mercado interno americano, como algumas indústrias e o agronegócio, por exemplo. Nesse sentido, a adoção de medidas protecionistas por parte dos Estados Unidos na disputa com a China, inédita em escala desde o pós-Segunda Guerra, é a chave: erguem-se barreiras tarifárias para proteger esses setores vulnerabilizados pela concorrência externa, trazer algumas das indústrias instaladas na China ou em outros países de volta para os Estados Unidos, e proteger o mercado que a república asiática está disputando diretamente.
São também as relações internacionais de classes que explicam outro elemento importante, apresentado em tom de fofoca e descartado sem maiores justificativas ou considerações: a França ter passado os três anos do conflito tentando enfraquecer a posição da Alemanha. Diluída em reflexões supérfluas sobre as aristocráticas regras de etiqueta para condução da diplomacia europeia, aqui estava uma excelente chance de explorar uma divergência no seio da União Europeia entre uma França pressionada pelas manifestações da classe dos pequenos e médios produtores rurais, e uma Alemanha há dois anos em recessão, pressionada pela crise nas suas indústrias, com gigantes como Bosch, Volkswagen e ThyssenKrupp anunciando fechamento de fábricas e demissões em massa de milhares de trabalhadores.
Essa contradição se expressa mais abertamente no impasse do tratado Mercosul-União Europeia, um acordo de livre-comércio entre os dois blocos definido, em linhas gerais, pela abertura do mercado dos países latino-americanos aos produtos manufaturados europeus e a abertura do mercado europeu para a produção agropecuária sul americana. O arranjo poderia auxiliar as indústrias europeias com um novo mercado, ao mesmo tempo em que a concorrência do agronegócio latinoamericano no mercado europeu, com seu baixo custo e baixo nível de exigências de segurança alimentar frente ao estrito controle de agrotóxicos da UE, prejudicaria fortemente a produção agrícola deste último. A esse fator, soma-se o crescimento da chamada posição “eurocética”, isto é, de rejeição à União Europeia, e de reaproximação com a Rússia dentro da Europa, impulsionada pela extrema-direita que busca arregimentar as insatisfações destas classes, especialmente na França (retomaremos este ponto adiante). Tudo isto pode indicar uma tendência a ainda outra reconfiguração da composição de forças antes de um novo acirramento das tensões globais. E, no entanto, nada disso é aproveitado. Fala-se no vídeo da impotência da Europa. Por que? “Porque os Estados Unidos mandam” é uma resposta paupérrima quando já se havia colocado outros elementos na mesa para discussão. Quais as implicações dessa impotência, ou desse enfrentamento entre os dois países? Igualmente não parece importar.
Também aparece uma única vez, quase a título de curiosidade, lá pela metade do vídeo, o conceito de imperialismo. Não como movimento real do capitalismo em seu estágio contemporâneo que anima a análise, mas literalmente para lembrar que os Estados da Europa também o são, e apenas para novamente escantea-lo do roteiro. Ou seja, mais uma vez como rotulação barata, como quem faz pit stop no marxismo e retoma para uma análise nada marxista. Já sobre uma das maiores contendas de todo o nosso processo de racha e congresso, o caráter interimperialista ou defensivo do conflito, aparece tão somente nas conclusões do roteiro, e diz-se apenas que as negociações de paz seriam uma “pista” da resposta.
Para coroar essa jornada a uma teoria estranha ao marxismo, Euclides nos dá uma afirmação mais clara do seu alinhamento teórico quando retoma o histórico da Rússia de tentar compor com o restante da Europa no imediato pós-Guerra Fria. Aqui o camarada afirma as teorias da geopolítica como “a única coisa que explica” a rejeição advinda do bloco europeu, isto é, teorias que prenunciam a Rússia como “inimigo a ser desmantelado”. Se já seria uma tarefa hercúlea tentar convencer que os Estados burgueses, seus gestores e formuladores guiam suas políticas externas a partir de teorias cujo principal determinante é o elemento geográfico, afirma-las como uma explicação científica frente ao marxismo beira o absurdo. Basta olhar para o galopante crescimento da extrema-direita no continente. Uma breve leitura do programa político da Alternativa para Alemanha (AfD), por exemplo, vai indicar como projeto de política externa o fim do apoio militar à Ucrânia, o abandono das sanções comerciais à Rússia, a tomada de parte ativa nas negociações pelo fim do conflito e a incorporação da Rússia nas futuras arquiteturas econômicas e securitárias europeias. Mas como o camarada prometeu abordar essas teorias em vídeo futuro, deixemos assim a crítica por enquanto.
Em trinta minutos de vídeo, Euclides teve uma chance de ouro para expor com clareza, a partir de um fenômeno da realidade concreta, a linha política definida em congresso, e fugiu dela com maestria. Discutiu multipolaridade sem pontuar o acirramento dos interesses de classe contraditórios, ou o erro estratégico que é a defesa do multipolarismo como horizonte estratégico. Debateu a posição dos países com espantosa leniência aos argumentos oficialistas russos e sem a devida ênfase no caráter interimperialista do conflito, abrindo margem para proliferação de interpretações campistas e pró-russas da política internacional. E, o que é mais grave, fez tudo isto passando longe do marxismo, com referências protocolares e instrumentais a um ou outro conceito enquanto apresenta uma linha realista e defende teorias geopolíticas, ambas de uma verdadeira miséria teórica frente ao marxismo-leninismo e à nossa linha.
Com efeito, o camarada inverteu a máxima de Clausewitz, transformando a política em continuação do militarismo por outros meios. Desapareceram as relações econômicas, desapareceram as classes, desapareceu o imperialismo enquanto determinação última das relações sociais do nosso tempo, posta apenas enquanto uma adjetivação vazia que poderia muito bem significar a “errônea compreensão do imperialismo como um fenômeno puramente político-militar, ignorando sua dimensão econômica à escala planetária”.
Se é compreensível a boa intenção de se colocar como alternativa comunista a veículos que debatem temas militares com uma linha de direita, o vídeo encerra impondo um sério questionamento se essa oposição é efetiva quando parte dos mesmos pressupostos teóricos e não leva às conclusões do nosso programa. E isso mesmo estando diante de uma miríade de implicações importantes para a nossa atuação, desde o nosso posicionamento sobre a guerra até outras questões, como a mudança da política externa estadunidense, suas motivações e suas implicações; as tensões entre os países europeus, que vão se refletir nas relações do governo Lula com o governo Macron com vistas a tentar dissuadir o principal interessado na assinatura do acordo Mercosul-UE do lado da América Latina, quais os interesses de cada setor de classe brasileiro nesse tratado e qual deve ser a nossa postura; o crescimento da extrema-direita, sua política externa e a ameaça do fim da União Europeia, importantíssima para que a análise não se contente em ser um deboche da “impotência” europeia, etc.
A certa altura do vídeo, todos esses problemas são sintetizados pelo próprio Euclides, quando faz referência a um meme sobre as teorias liberais e as teorias realistas das Relações Internacionais, dizendo que “ficou só faltando o marxismo”. Temo que na sua análise também, camarada.