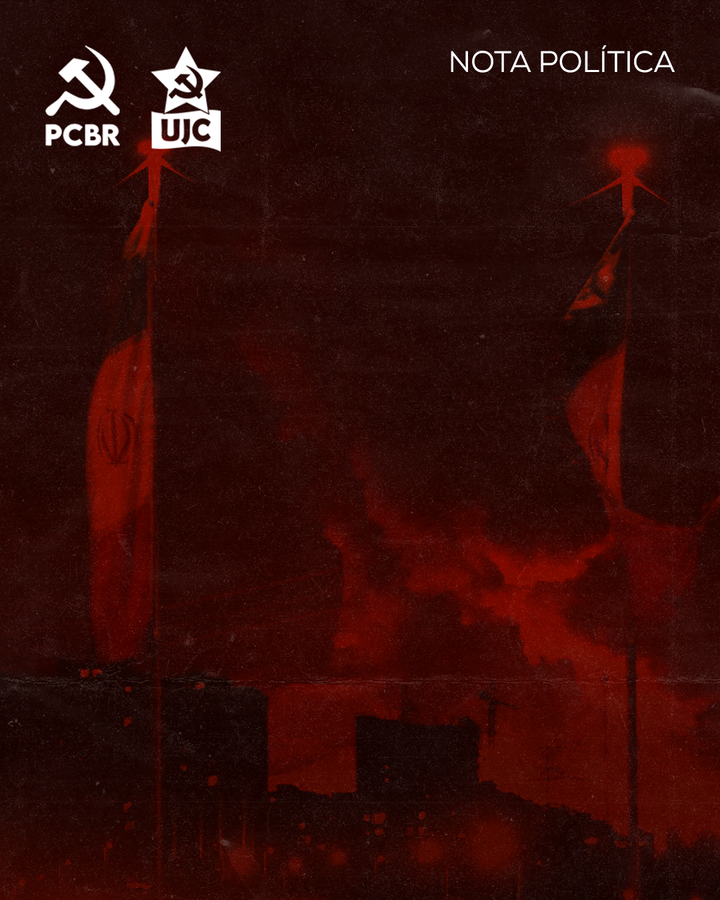Governadores do Acre e Pará entregam a floresta ao mercado de carbono
Com diálogos bem desvirtuados e pouca transparência às comunidades indígenas, contratos milionários para venda de créditos de carbono são conduzidos com gigantes globais como Amazon e Bayer.

Por Redação
Com diálogos bem desvirtuados e pouca transparência às comunidades indígenas, contratos milionários para venda de créditos de carbono são conduzidos com gigantes globais como Amazon e Bayer. Essas negociações transformam a Amazônia em um produto a ser vendido. Disfarçado de "revolução ambiental", o mercado de carbono opera como uma ferramenta imperialista, onde corporações estrangeiras continuam lucrando e poluindo, levando às comunidades locais a uma lógica expropriatória.
No Pará, o governador Helder Barbalho (MDB) firmou um acordo estimado em quase R$1 bilhão com a Coalizão LEAF, um consórcio que inclui empresas como Amazon e Bayer e países como Noruega, Estados Unidos e Reino Unido. Ele afirma que esse dinheiro irá “salvar” a Amazônia e que os recursos serão distribuídos para as comunidades tradicionais. Mas essa promessa não esconde a realidade: o Pará é líder em desmatamento na Amazônia, incentivado pela própria política de expansão do agronegócio promovida pelo governador. E como esses contratos foram firmados? Sem ouvir as vozes dos povos indígenas, violando a Convenção 169 da OIT, que garante o direito de Consulta Livre, Prévia e Informada (CLPI). Para os movimentos sociais, é apenas mais uma ação colonialista que esmaga o direito à autodeterminação das comunidades tradicionais.
O governo do Acre, Gladson Cameli (PP) segue o mesmo caminho, tentando "certificar" créditos de carbono para venda ao mercado internacional. Em 18 de outubro, apresentou um documento para obter a certificação técnica necessária (ART TREES) para entrar no mercado de carbono, com a expectativa de ter créditos certificados e prontos para negociação até a COP 30, em 2025.
Francisco Pyãko, líder do povo Ashaninka, denuncia que as discussões foram realizadas em ambientes burocráticos, distantes dos territórios e do alcance das lideranças indígenas. Essa exclusão é deliberada: o governo facilita o acesso das corporações ao capital da floresta enquanto silencia aqueles que realmente vivem e preservam a região. Para Pyãko e outros líderes, essa política vende a Amazônia como um produto financeiro, reforçando um modelo onde os indígenas não têm vez e suas terras são subordinadas aos interesses econômicos dessas corporações.
Esses acordos não representam conservação, são uma fachada para a continuidade da devastação. O mercado de carbono permite que corporações continuem poluindo em outras partes do mundo sem necessidade de reduzir suas emissões. As multinacionais compram créditos de carbono e seguem intocadas em sua destruição ambiental.
O Pará, com essas “parcerias verdes”, lidera o desmatamento na Amazônia. O governo vende a floresta em pequenas partes para compensar as emissões no exterior, enquanto o restante do território é destruído pela mineração e pelo agronegócio.
A liderança Munduruku, Alessandra Korap, em entrevista ao Amazônia Real, denuncia o que realmente está em jogo: um sistema capitalista que mercantiliza a natureza e os povos indígenas. Ela destaca que o acordo não foi explicado de forma acessível para as comunidades, que ficam à margem das decisões e não têm o direito de dizer não. O povo Munduruku que trava uma luta histórica contra o garimpo em suas terras, nos últimos anos teve que enfrentar a ofensiva do mercado de carbono representada pela Shell.
Francisco Pyãko também denuncia esse modelo como um novo tipo de colonialismo, onde as florestas são mantidas sob vigilância das corporações e onde os povos da floresta são apenas “custos” para o sistema.O líder Ashaninka diz que os moradores originários não precisam de "certificados"; precisam do direito de proteger suas próprias terras sem a interferência das corporações que historicamente exploram e destroem.
Esses contratos revelam o caráter imperialista do mercado de carbono, onde os interesses das corporações globais estão acima da vida e do direito dos povos indígenas. A floresta, mais uma vez, é vista como um ativo financeiro. Esse modelo, disfarçado de sustentabilidade, é uma manobra de poder, e os governadores do Acre e do Pará são seus agentes locais. A luta das lideranças indígenas e dos movimentos sociais expõe a verdadeira natureza desses acordos: um sistema que não se preocupa com a Amazônia, mas apenas com os lucros do capital.
A COP28 em Dubai serviu como exemplo de como as grandes potências, principalmente ligadas à indústria petrolífera, continuam apostando em falsas soluções, como mercado de carbono, para manter o uso de combustíveis fósseis até 2050. É um exemplo de política que apresenta uma solução que aparentemente combate a crise climática, mas apenas legitima a continuidade da exploração predatória do planeta.
No entanto, ao invés de resolver o problema, esses mecanismos intensificam a opressão sobre comunidades indígenas e camponesas, especialmente em regiões ricas em biodiversidade. Os conflitos do povo Ka’apor e outras comunidades indígenas exemplificam como essas políticas não levam em conta a vida e a cultura dos povos originários e os forçam a uma escolha: aceitar o capitalismo ou resistir a ele.
A Comissão Pastoral da Terra (CPT) aponta que o mercado de carbono nada mais é que uma nova forma de privatização da Amazônia. Empresas estrangeiras compram a floresta, enquanto os povos indígenas, que sempre defenderam o território, são excluídos e muitas vezes expulsos de seus territórios. Milhões de hectares em terras indígenas estão sob risco de expropriação, agravado pela falta de regulamentação no Acordo de Paris e nas leis brasileiras.
A luta indígena expõe a falácia do mercado de carbono: ele não é uma solução climática, mas uma estratégia de mercado que permite às corporações poluir sem enfrentar as verdadeiras causas da crise ambiental. Para os povos da floresta, o que está em jogo não é apenas a preservação do ambiente, mas a defesa de suas próprias vidas e territórios.
A luta contra a mercantilização da natureza e a exploração capitalista, como apontamos, exige uma ruptura definitiva com o modelo de capitalismo dependente e latifundiário que predomina no Brasil. Esse sistema, sustentado historicamente pela exploração das terras, mantém o país subordinado aos interesses imperialistas e ao agronegócio. A forma de defender a Amazônia e garantir a sobrevivência das comunidades tradicionais é com a nacionalização das terras e a construção do socialismo-comunismo. Somente a partir de um Estado proletário, no qual o controle das florestas esteja nas mãos do povo, será possível preservar os recursos naturais e combater as mudanças climáticas. Sem a ruptura com o capitalismo e a construção de um projeto socialista, a Amazônia seguirá sendo explorada.