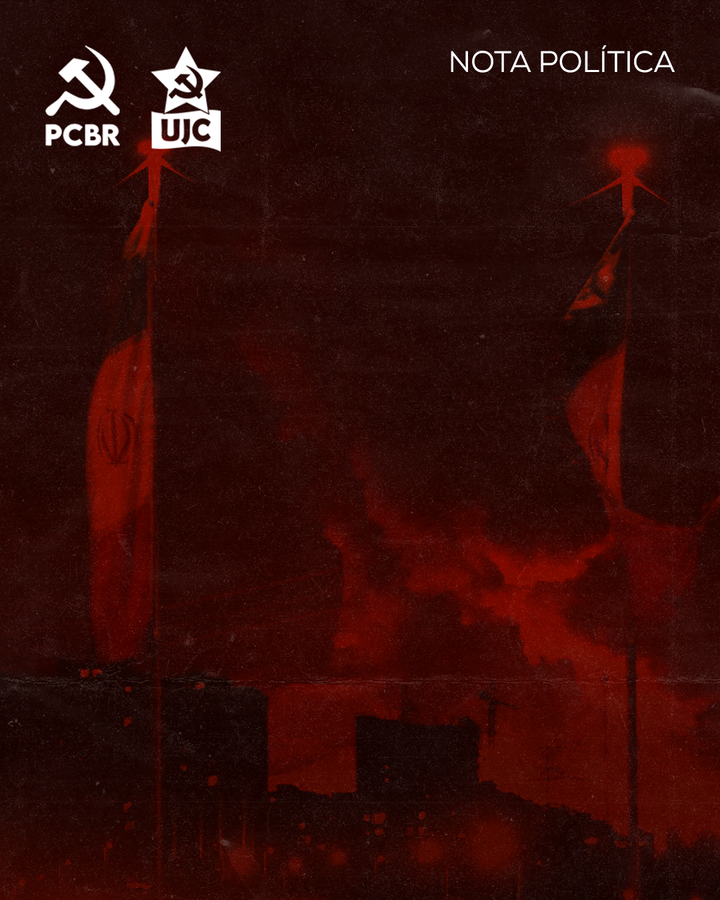“Brazilian Phonk” e o silenciamento das periferias
Em conversa com DJ Argel, expoente da cena nortista, revelamos como a mercantilização do funk e a repressão policial expõem as contradições entre mercado e cultura popular nas periferias brasileiras.

Por Redação
O funk brasileiro, nascido nas ruas das periferias como manifestação cultural dos trabalhadores precarizados, enfrenta uma dupla ofensiva: a exploração cultural pelo mercado internacional e a repressão estatal. Sob o rótulo de “Brazilian Phonk”, emerge um produto re-embalado que combina elementos do funk brasileiro com influências do phonk norte-americano, um subgênero do rap dos anos 1990 marcado por batidas lo-fi, graves pesados e uma estética mais melódica.
O Brazilian Phonk, no entanto, é produzido com foco no consumo internacional, simplificando ritmos e despolitizando a essência periférica do funk para atender aos padrões do mercado global. Essa transformação captura o que antes era uma expressão orgânica, desconectando-a de suas raízes culturais e sociais. Enquanto isso, no Brasil, o Estado reprime bailes funk e criminaliza seus produtores, evidenciando que, para a burguesia, a cultura popular só é aceitável quando pode ser explorada como mercadoria.
O funk brasileiro nasceu como uma manifestação cultural das periferias urbanas, diretamente ligado às condições de exclusão e exploração enfrentadas por essas comunidades. Diante da falta de acesso à cultura e ao lazer, o funk surgiu como uma forma de expressar a realidade das quebradas, abordando temas como o desemprego, a violência policial, o racismo e o cotidiano das periferias.
Produzido de forma independente, o funk é sustentado pela criatividade de MCs e DJs, que criam músicas a partir de acapellas — bases instrumentais e mixagens produzidas pelos DJs, como batidas e beats que servem de suporte para as vozes dos cantores. Essas produções são feitas de forma acessível, muitas vezes em pequenos estúdios caseiros, e se popularizam em festas comunitárias. Esse processo tornou o funk uma cultura próxima das vivências das periferias, ao mesmo tempo em que ampliou o acesso à criação musical.
Essa lógica permitiu ao funk democratizar a produção cultural e se consolidar como uma manifestação autêntica, mesmo quando suas letras não possuem um teor explicitamente engajado. Ainda assim, muitas composições abordam questões como a precarização do trabalho, a violência policial, o racismo e o abandono das periferias pelo Estado.
Argel Garcia, conhecido como DJ Argel, é um jovem nortista de 20 anos, natural do sudoeste do Pará e atualmente residente em Belém. DJ, produtor musical e de eventos, além de designer gráfico, ele traz uma abordagem inovadora ao cenário musical com o desenvolvimento do Tecnomandelody — uma fusão entre o tecnomelody amazônico e o funk paulista, que propõe uma nova sonoridade. Reconhecido por sua versatilidade e criatividade, Argel conecta a cultura nortista a diferentes movimentos artísticos, destacando o talento da região e ampliando as possibilidades da música independente no Norte. Como ele relata:
“No Norte, as acapellas e as produções independentes têm sido essenciais para democratizar o acesso à criação musical, mesmo com recursos limitados. A comunidade se apoia para manter o movimento vivo, muitas vezes sem apoio externo.”
O funk, assim como o Tecnomandelody, reflete a inventividade das periferias, mostrando que a cultura é capaz de se reinventar mesmo em contextos desafiadores.
O funk, historicamente marginalizado e criminalizado, enfrentou anos de exclusão antes de conquistar espaço nos cenários culturais e midiáticos do país. Originado nas periferias, ele foi inicialmente tratado como ameaça e alvo de preconceitos. Com o tempo, porém, ultrapassou essas barreiras, ganhando aceitação econômica e se tornando um fenômeno popular. Nos últimos anos, essa popularidade chamou a atenção do mercado global, que enxergou no funk uma oportunidade lucrativa, transformando-o em um produto de alcance internacional. Gravadoras internacionais passaram a adquirir direitos autorais de produções originalmente gratuitas, transformando-as em commodities vendidas sob o rótulo de “Brazilian Phonk”.
Essa nova versão, moldada para agradar ao mercado global, mantém apenas traços superficiais do funk original, como os beats marcantes e elementos estilísticos que remetem à sua origem. No entanto, perde o contexto cultural e social que caracteriza o gênero nas periferias. As letras, muitas vezes carregadas de críticas sociais e narrativas locais, são simplificadas ou substituídas por temas genéricos, enquanto a produção se adapta a padrões internacionais para ampliar sua aceitação comercial. O resultado é uma música que conserva a estética, mas esvazia o significado original, atendendo às exigências de consumo global.
Argel aponta como essa lógica tem impactos concretos sobre os produtores independentes:
“Gravadoras estrangeiras (e algumas nacionais) compram os direitos de acapellas disponibilizadas gratuitamente por MCs e transformam essas vozes em mercadorias globais. Isso é imperialismo porque existe uma dinâmica de exploração: o que foi criado por trabalhadores das periferias brasileiras é apropriado, reembalado e vendido em mercados globais como um produto elitizado, enquanto os criadores originais são marginalizados.”
A indústria cultural transforma o funk em algo palatável para a elite internacional, apagando suas raízes periféricas e desconectando-o das realidades que lhe deram origem. Vertentes como o tecnomelody amazônico, por exemplo, são invisibilizadas dentro do próprio Brasil, como denuncia Argel:
“Vemos agora a tentativa de apagamento das nossas sonoridades e narrativas. Isso reforça que o imperialismo não é só econômico, mas também cultural, apagando as origens periféricas e colonizando estéticas.”
Se o mercado global transforma o funk em mercadoria, o Estado brasileiro reforça a violência estrutural ao criminalizar suas manifestações autênticas. Bailes funk nas periferias são tratados como ameaças e alvos de repressão sistemática. Um exemplo emblemático é o Massacre de Paraisópolis, em 2019, quando nove jovens foram brutalmente assassinados pela PM de São Paulo durante uma operação em um baile funk.
Dados da Agência Brasil mostram que, entre janeiro e agosto de 2024, as polícias de São Paulo cometeram 441 mortes em serviço, um aumento de 78,5% em relação ao mesmo período dos dois anos anteriores. Esse aumento afeta principalmente a população negra, que representa 34,6% do estado, mas sofreu 283 vítimas, correspondendo a 64,2% do total de mortes por forças policiais. Essa repressão, sistemática e racialmente marcada não é acidental.
DJ Argel conecta essa repressão à ausência de políticas públicas para a cultura popular:
“O Estado não apenas se omite, mas contribui para perpetuar a desigualdade ao não reconhecer a potência cultural que nasce das periferias. O funk e o tecnomelody no Norte enfrentam repressão e abandono.”
Esse ciclo de repressão e exploração deixa claro o papel do Estado burguês: criminalizar quando o funk é resistência, explorar quando é mercadoria.
O Brazilian Phonk reflete a ação do imperialismo como um movimento do capital que disputa e forma monopólios em todas as áreas, incluindo a cultura. Ao capturar e mercantilizar o funk, o mercado global desvirtua suas origens, impedindo que ele continue sendo um canal de expressão das periferias brasileiras. O imperialismo age para controlar essas manifestações culturais, submetendo-as aos seus interesses econômicos.
Enquanto isso, a violência policial e a omissão do Estado agravam o cenário, reforçando as contradições de um sistema que oprime e explora os mesmos sujeitos que constroem a cultura. O funk é aceito apenas em versões mercantilizadas, enquanto todas as outras expressões que preservam suas características originais são reprimidas, ignoradas ou criminalizadas. Isso expõe como o capitalismo não apenas se apropria do funk, transformando-o em um produto vazio de conteúdo, mas também busca reprimir todas as formas genuínas de expressão cultural. Como aponta Argel, a resistência passa pela mobilização coletiva de artistas, produtores e das comunidades que mantêm o funk vivo:
“Precisamos nos unir para exigir políticas públicas, combater o apagamento cultural e preservar nossas origens.”
O funk, ao longo do tempo, tem se revelado como um espaço de expressão para as periferias, mas também enfrenta a tensão entre resistir à mercantilização e servir como um meio de enriquecimento pessoal, muitas vezes associado a lógicas de empreendedorismo e perspectivas misóginas. Mesmo assim, sua origem periférica e criatividade sonora atravessadas pela repressão estatal podem fortalecer uma perspectiva de resistência e construção, desde que se combata tanto a mercantilização quanto às distorções que enfraquecem suas mensagens originais. É necessário garantir que essa cultura dos trabalhadores continue viva para que as periferias não sejam apenas consumidas, mas possam, de fato, transformar sua realidade.